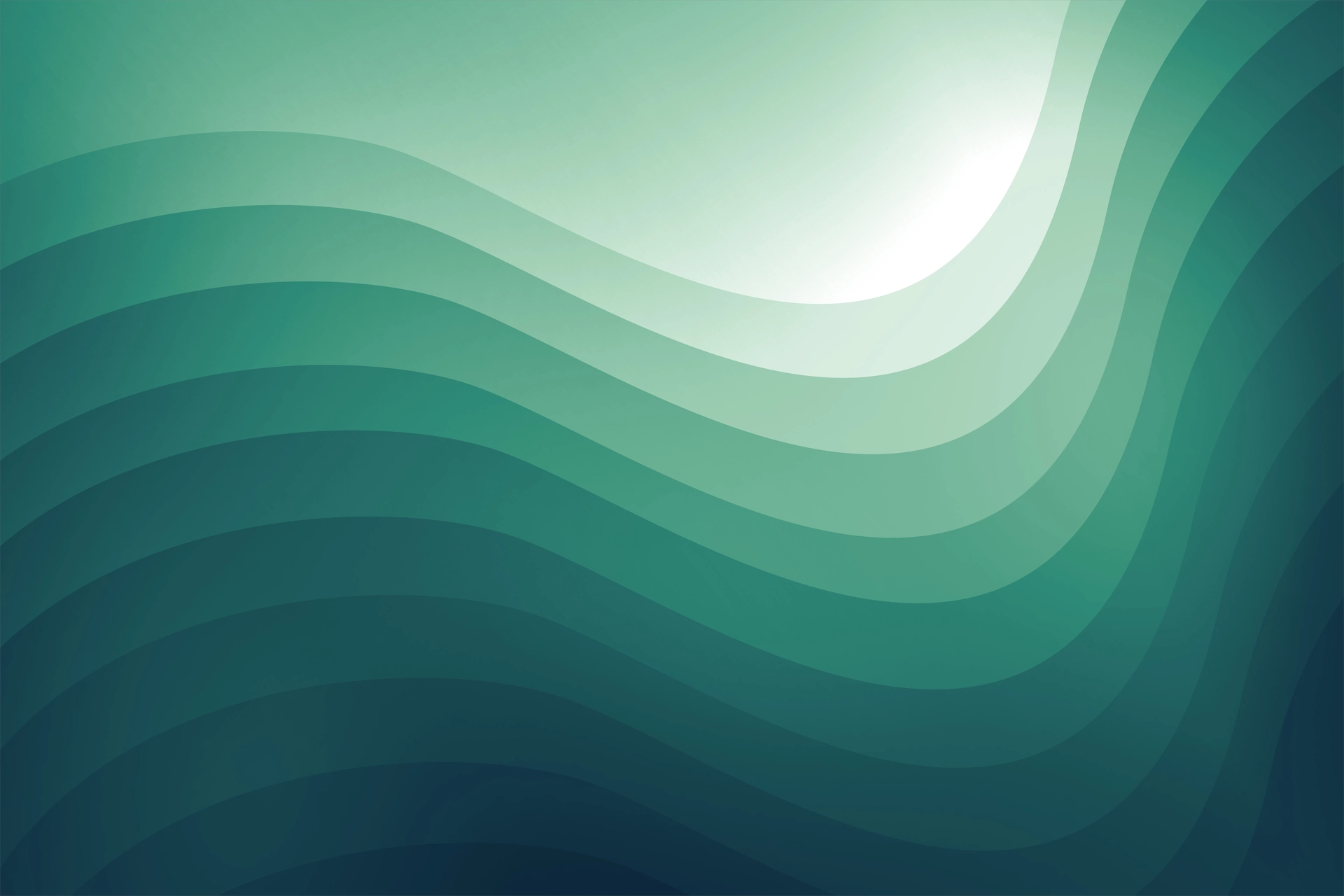A possibilidade de termos maior chance de eventos adversos, ou piores desfechos de tratamento, em grupos socialmente vulneráveis é uma hipótese bastante forte na literatura internacional, ainda que não homogeneamente conclusiva
Por Renato Vieira*
A identidade brasileira foi forjada de modo sui generis. Da mistura de raças do Brasil colonial pouco a pouco surgiu um povo que já não era mais reconhecido por seus pais brancos, índios e negros: repudiado pelo colonizador português; não mais escravo, nem ainda senhor de engenho; não-índio, mas ainda assim distante da metrópole europeia. Não sendo nem uma coisa, nem outra, identificou-se consigo mesmo, e forjou uma identidade cheia de ambivalências, “mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma”(1).
Habitamos, todos nós, um pouco na Casa Grande e um pouco na Senzala. Carregamos, de formas diversas, tanto o chicote do feitor como o grilhão do escravo; a flecha do índio, e a espingarda do branco. Entre os dois trópicos do globo, colonizadores e colonizados formaram uma cultura nova, com impulsos incoerentes entre assimilação e segregação. Mas, nas palavras de Darcy Ribeiro, “a mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz do torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista” (1).
Esta “explosão de brutalidade”, classista ou racista, pode surgir no contexto do atendimento de saúde?
Evidentemente, manifestações discriminatórias raciais, sexistas, religiosas ou de procedência podem surgir em qualquer contexto das relações humanas. Quando são objetivamente discriminatórias, estas manifestações são crimes, tipificados na legislação brasileira através da Lei 7.716, de 5/1/89 e sua alteração 9.459, de 13/05/1997, passíveis de prisão (um a cinco anos, dependendo da atividade) e multa.
Mas a brutalidade pode ser muito mais sutil, sem que – necessariamente – possa ser tipificada como crime. Lembro-me de um atendimento, em um pronto-socorro de um hospital geral, em que fui chamado para realizar a avaliação psiquiátrica de um paciente “etilista”. As vestes do paciente e a forma de expressão de sua esposa denotavam uma origem humilde. Embora o próprio paciente, de maneira confusa, e sua esposa negassem o uso de bebidas alcoólicas, a impressão do primeiro médico que o avaliou era que se tratava de intoxicação aguda. Um exame um pouco mais atento no andar cambaleante e no quadro confusional instalado sugeriam um evento neurológico vascular, o que foi confirmado poucos minutos após, com uma tomografia que revelou tratar-se de um AVC em cerebelo. A questão aqui é a seguinte: fossem outras as vestes do paciente, e outra a forma de expressão de sua família, o diagnóstico elencado continuaria sendo embriaguez?
No Brasil, a literatura é absolutamente escassa sobre o tema. Mas a possibilidade de termos maior chance de eventos adversos, ou piores desfechos de tratamento, em grupos socialmente vulneráveis é uma hipótese bastante forte na literatura internacional, ainda que não homogeneamente conclusiva. A maioria dos trabalhos concentra-se em minorias étnicas, sendo substancialmente raros os trabalhos que exploram impactos do gênero, preferência sexual, religião ou origem geográfica nos riscos assistenciais e segurança do paciente.
Santry & Wren (2) analisaram diversos fatores inconscientes que poderiam afetar aspectos de segurança e resultados assistenciais de cirurgiões. Estes vieses poderiam afetar diversas áreas de atuação, como cirurgia geral, neurocirurgia, ortopedia, cirurgia cardíaca, oncologia, etc. Como exemplos destes estudos, o Surveillance, Epidemiology and End Results – SEER (3) do National Cancer Institute mostrou que diversos cânceres em fase passível de tratamento cirúrgico, tais como gliomas de baixo grau, tumores de esôfago e de pulmão (que não de células pequenas), possuem menores taxas de cirurgias realizadas na população negra, em comparação à população branca, mesmo quando o estadiamento é semelhante. Estes achados também são encontrados nas proporções de encaminhamento para tratamento adjuvante.
Na mesma linha, Green et al. (4) estudaram as respostas a um questionário eletrônico aplicados a 287 médicos de quatro cidades americanas, onde era apresentado um caso de dor torácica e eletrocardiograma sugestivos de infarto agudo do miocárdio, havendo contraindicação de tratamento percutâneo. Na apresentação do caso os médicos eram expostos a vinhetas com foto do rosto do paciente, aleatoriamente apresentado como branco ou negro, submetendo-se a perguntas clínicas sobre o caso. Também respondiam perguntas subjetivas, tais como se avaliavam o paciente como “cooperativo” ao tratamento, ou não. Os achados do estudo mostraram que pacientes negros tendiam a ser mais avaliados como “menos cooperativos” com o tratamento, interferindo, inclusive, na probabilidade de serem indicados para tratamento trombolítico.
Estes achados podem não ser homogeneamente aceitos na literatura, havendo hipóteses alternativas, tais como a de que este efeito possa se dever à concentração de atendimento da população negra em hospitais de baixo desempenho (5,6), o que não deixa de ser um risco vinculado à vulnerabilidade social, ainda que não dependa de vieses comportamentais das equipes assistenciais.
É muito provável que o cenário se repita com diversas minorias, pois são iguais as engrenagens da exclusão. Minha interpretação é que nos tornamos humanos pelo diálogo, livre e franco, sincero e acolhedor. Quem dele participa, suas duas pontas de emissores-receptores, sai dele engrandecido, ainda que possa discordar em conteúdo. Vejo nestes diversos artigos que a comunicação foi quebrada pela barreira de classe, e com ela a humanidade. Quantitativamente, houve uma perda da mensagem original. A dor e o eletro deixaram de ser um infarto; uma ataxia deixou de ser uma emergência; um tumor ressecável, deixou de ser perigoso. No fundo, a mesma raiz de onde nascem guerras e incompreensão: o sofrimento do outro, principalmente o daquele que não se parece comigo, pouco me diz respeito.
* Renato Vieira é Gerente Médico Corporativo no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e consultor do IBSP.
Veja mais
Referências
- “O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil” / Darcy Ribeiro. – São Paulo; Companhia das Letras, 1995. ISBN 85-7164-451-9
- Santry HP & Wren SM. “The Role of Unconscious Bias in Surgical Safety and Outcomes”. Surg Clin N Am. 92; 2012: 137 – 151
- Bach PB, Schrag D, Brawley OW, Galaznik A, Yakren S & Begg CB. “Survival of Blacks and Whites After a Cancer Diagnosis”. JAMA, 2012. 287 (16): 2106-2113
- Green AR, MD, Carney DR, Pallin DJ, Ngo LH, Raymond KL, Iezzoni LI & Banaji MR. “Implicit Bias among Physicians and its Prediction of Thrombolysis Decisions for Black and White Patients”. Society of General Internal Medicine 2007;22:1231–1238
- Darrell J. Gaskin, Christine S. Spencer, Patrick Richard, Gerard F. Anderson, Neil R. Powe, and Thomas A. LaVeist. “Do Hospitals Provide Lower Quality Care To Minorities Than To Whites?”. Health Affairs 27, no.2 (2008):518-527.
- Rosanna M. Coffey, Roxanne M. Andrews and Ernest Moy. “Racial, Ethnic, and Socioeconomic Disparities in Estimates of AHRQ Patient Safety Indicators”. Med Care (2005);43: I-48–I-57
Avalie esse conteúdo
Média da classificação 0 / 5. Número de votos: 0